Por BRUNA HOMRICH (texto) e FRITZ R. NUNES (fotos), da Assessoria de Imprensa da Sedufsm
 Nesta quinta-feira, 15 de março, um dia depois do assassinato, provavelmente não precisaríamos dizer quem foi Marielle Franco (foto ao lado/Revista Forum). Seu nome é o mais citado, mundialmente, no Twitter. Sua morte foi relatada por veículos internacionais, como o jornal britânico The Guardian e o norte-americano New York Times, e repudiada em sessão plenária do Parlamento Europeu. Nas redes sociais, espalham-se postagens de reverência e consternação, e em diversas cidades do país – a exemplo de Santa Maria – organizam-se atos em denúncia ao que vem sendo considerada, pelos movimentos sociais, uma execução.
Nesta quinta-feira, 15 de março, um dia depois do assassinato, provavelmente não precisaríamos dizer quem foi Marielle Franco (foto ao lado/Revista Forum). Seu nome é o mais citado, mundialmente, no Twitter. Sua morte foi relatada por veículos internacionais, como o jornal britânico The Guardian e o norte-americano New York Times, e repudiada em sessão plenária do Parlamento Europeu. Nas redes sociais, espalham-se postagens de reverência e consternação, e em diversas cidades do país – a exemplo de Santa Maria – organizam-se atos em denúncia ao que vem sendo considerada, pelos movimentos sociais, uma execução.
Mas, embora seu nome, rosto e dizeres estejam circulando amplamente, resgatar quem foi Marielle é essencial para inscrever seu assassinato dentro do que a estudante Alice Carvalho, presidente do Psol Santa Maria, considera um “genocídio da população negra”.
Marielle, 38, era negra, filha do Complexo da Maré e mãe de uma menina de 19 anos. Em sua primeira candidatura à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), conquistou 46,5 mil votos, sendo a quinta vereadora mais votada e atualmente a relatora da comissão parlamentar que acompanhava a intervenção federal em território carioca. Na noite da quarta-feira, 14 de março, um de seus últimos tweets era uma transmissão ao vivo da roda de conversa “Jovens Negras Movendo as Estruturas”, evento do qual, sendo uma das participantes, nunca mais retornou.
“O assassinato de Marielle representa a institucionalização de um projeto de Estado para o extermínio da população negra e também para o silenciamento da militância que ousa lutar por direitos humanos. Marielle era uma lutadora muito aguerrida pelos direitos das mulheres negras e da população pobre da periferia. Pelos direitos da classe trabalhadora”, relatou Alice, para quem o assassinato da companheira de partido foi uma tentativa de intimidar e calar a militância.
Terrorismo de Estado
 O processo de redemocratização pelo qual passou o Brasil no período posterior à ditadura civil-militar não deu conta de superar o terrorismo de Estado, hoje expresso nas atuações opressivas e arbitrárias das polícias e do exército nas periferias do país, onde, frequentemente, cidadãs e cidadãos são assassinados à queima-roupa.
O processo de redemocratização pelo qual passou o Brasil no período posterior à ditadura civil-militar não deu conta de superar o terrorismo de Estado, hoje expresso nas atuações opressivas e arbitrárias das polícias e do exército nas periferias do país, onde, frequentemente, cidadãs e cidadãos são assassinados à queima-roupa.
A opinião é da docente do departamento de Direito da UFSM, Marília Denardim Budó, que destaca a condição de mulher negra e proveniente da favela como fator que, por si só, já conferiria à Marielle uma expectativa de vida mais baixa se comparada com a de uma mulher branca de classe média. Isso porque, explica a docente, as probabilidades de morte por assassinato, violência obstétrica, doméstica ou policial são maiores no perfil ocupado pela militante.
“No caso de Marielle, sua brilhante trajetória na luta pelos direitos das pessoas da periferia, a tornou também um alvo. Além de negra e periférica, ao ganhar a posição de quinta vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro, e direcionar seu mandato para as demandas das moradoras e moradores das favelas cariocas, ela se tornou um alvo indiscutível. Não há neste país pessoas mais oprimidas, e ao mesmo tempo mais potentes, do que as mulheres negras. Contrariando todas as estatísticas, Marielle contornou a situação de permanente violência estrutural e institucional instalada na favela da Maré e conseguiu estudar, militar, produzir conhecimento e emplacar projetos fundamentais para a vida das pessoas provenientes da periferia do Rio de Janeiro”, avalia Marília.
Para ela, “o maior terrorista brasileiro é o Estado, em uma relação espúria com os mercados – legais e ilegais -, muitos dos quais lucram com as mortes nas periferias”.
Racismo e genocídio
 “O racismo estrutural no Brasil tem sido fundamental para empurrar corpos de jovens negros para as valas diariamente. Será esse um projeto de Estado? É o que vêm demonstrando numerosas estudiosas de dentro e de fora da academia. Uma delas é Ana Luiza Flauzina, que defendeu recentemente sua tese de doutorado em Harvard tratando sobre o genocídio da juventude negra no Brasil”, pondera a docente do departamento de Direito, lembrando que, no que tange aos movimentos sociais, não é de hoje que seus líderes são assassinados à queima-roupa, no campo e na cidade. Como referência, ela cita o relatório anual “Conflitos no Campo”, formulado pela Comissão Pastoral da Terra.
“O racismo estrutural no Brasil tem sido fundamental para empurrar corpos de jovens negros para as valas diariamente. Será esse um projeto de Estado? É o que vêm demonstrando numerosas estudiosas de dentro e de fora da academia. Uma delas é Ana Luiza Flauzina, que defendeu recentemente sua tese de doutorado em Harvard tratando sobre o genocídio da juventude negra no Brasil”, pondera a docente do departamento de Direito, lembrando que, no que tange aos movimentos sociais, não é de hoje que seus líderes são assassinados à queima-roupa, no campo e na cidade. Como referência, ela cita o relatório anual “Conflitos no Campo”, formulado pela Comissão Pastoral da Terra.
Outras denúncias recorrentes de violações lembradas por Marília são as publicizadas pelas “Mães de Maio” em São Paulo. Isso leva a docente a atestar que o Estado tem, de fato, “provocado mais mortes, dor e violência do que se pretende supostamente conter através de suas políticas de ‘segurança pública’”. E ela questiona se o caráter contraditório dessa realidade não significa, no fim das contas, um bem-sucedido projeto genocida de Estado.
Quem partilha de avaliação similar é a docente do departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e ex-presidente do ANDES-SN, Marinalva Oliveira, em cuja opinião o “Estado burguês faz o discurso de proteger a população, quando na verdade quer colocar as pessoas naquilo que é essencial para perpetuar os seus interesses capitalistas e opressores. Marielle foi executada, e pelo Estado. Ela representava a resistência a este Estado burguês e opressor, e eliminaram esta voz. O assassinato da Marielle é a tentativa de silenciar a pauta e a luta contra as opressões, mas o seu trabalho era coletivo e está enraizado e, assim, reverberará com mais força no coletivo organizado”, reflete Marinalva.
A necessária revolta
Alice Carvalho diz que, não obstante a dor e o sofrimento, o episódio vem gerando uma revolta necessária para que “a gente continue honrando a militância da Marielle e dando continuidade a toda trajetória de luta que ela teve, tanto no Psol quanto para fora do partido. Precisamos não nos deixar intimidar, não recuar, ocupar as ruas e espaços de poder, além de pensar em novas políticas de segurança pública para fazer com que nossa população negra continue viva e que nossos direitos sejam resguardados”, diz a presidente do Psol em Santa Maria.
Um dos próximos passos, defende a estudante, é intensificar mobilização em exigência à imediata apuração do crime e punição aos assassinos tanto de Marielle quanto de Anderson, motorista que a acompanhava há um bom tempo. “Não podemos nos deixar intimidar por essa execução, que foi um ato de barbárie”, conclui Alice.
Farsa discursiva
O assassinato de Marielle Franco a tiros na noite da última quarta-feira, 14, no centro do Rio de Janeiro, fez crescer o debate público sobre a intervenção militar naquele estado.
Para Marília, “não é possível que qualquer indivíduo minimamente interessado na preservação de vidas humanas acredite que dar carta branca ao exército para matar na periferia seja uma boa ideia. Agora, as pessoas que estão sustentando esse massacre não irão se compadecer da morte de Marielle, nem admitir a relação entre um crime e o outro”.
O momento, acredita a professora, é de denunciar a tal ponto que se torne “impossível ao poder constituído manter essa farsa discursiva da segurança pública”.
E um dos apoios fundamentais nesse processo, na opinião de Marília, advém da mídia alternativa, mesmo porque os meios de comunicação, carentes de democratização, legitimam cotidianamente a política de extermínio.
“A intervenção militar está em xeque desde o seu primeiro dia”, conclui a docente da UFSM.
Mobilização em Santa Maria
O núcleo do Psol em Santa Maria promoveu no final da tarde desta quinta, 15, um ato de repúdio ao assassinato da vereadora do partido no Rio. O evento, chamado pelas redes sociais, ocorreu na Praça Saldanha Marinho e teve o apoio de diversos coletivos, movimentos sociais e grupos ligados a partidos de esquerda. A roda de conversa “Marielle Franco, presente!” foi marcada por depoimentos que denunciaram a exclusão e extermínio da população negra que mora em periferias. A intervenção federal militar no Rio de Janeiro também foi bastante criticada. Para o jornalista Mateus Albuquerque, um dos militantes a usar o microfone, a realidade que se vive no Brasil não é de uma democracia, mas sim de um estado de exceção.
PARA LER A ÍNTEGRA, NO ORIGINAL, CLIQUE AQUI.




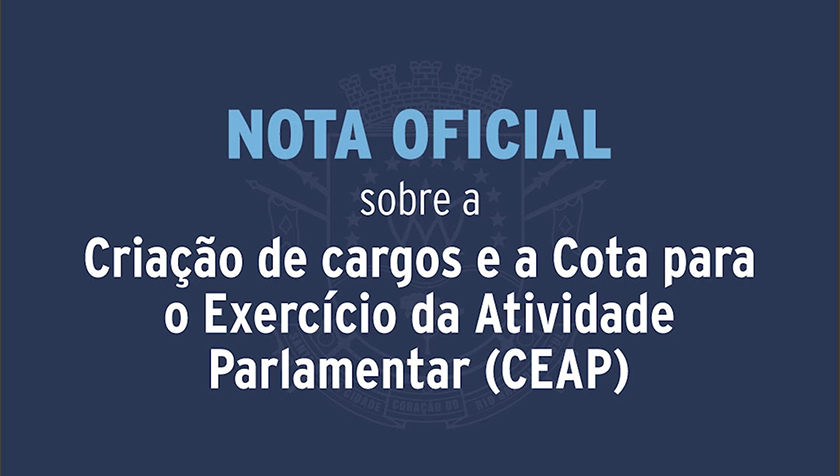


E então a novidade é que agora houve uma comoção, mesmo localizada, mas até a mídia se rendeu a ela, uma estranha comoção em comparação com os fatos trágicos anteriores e já banalizados como coisa normal, mas não porque ela é uma criança inocente que levou bala perdida, e já foram três crianças que morreram a bala nos últimos 30 dias mesmo com intervenção no Rio e ninguém do mundo político se vestiu de preto por elas, mas porque a vereadora faz parte de um grupo político. Quando se olha para os fatos em toda a sua extensão mostrando nossa tragédia social, essas incoerências só expoenciam o mundo esquisito que vivemos. Isso por quê? Política. A política faz tudo parecer esquisito. Outro do mundo esquisito: com certeza todos querem a condenação dos bandidos que assassinaram a vereadora querendo justiça, mas com certeza vários desse mundo político, agora comovidos e de preto, querendo justiça, vão aplaudir e homenagear um criminoso condenado daqui alguns dias aqui, só porque ele é … político do grupo ideológico afim.
Ganhamos muito quando vemos além das aparências em si, e poucos perceberam o lado surreal consequente. Aconteceu a mesma tragédia já banalizada, mas dessa vez foi com uma política, e a repercussão vira um mundo totalmente diferente, tamanha discrepância entre fatos trágicos anteriores e esse.
Alguns se aproveitam ideologicamente colocando fatores sociológicos de praxe das “lutas ideológicas” míopes como cor, gênero, “direitos humanos”, etc, como se os que já passaram tragicamente pelo mesmo fato causador não fossem cidadãos de todas as cores, idades, sexo, orientação sexual, com todo direito humano à vida e ao bem -estar.
Nossa vida não vale um centavo furado hoje em dia porque vivemos “dias normais” de violência, em função de um poder público cada vez mais incompetente para fazer o que tem de fazer. Onde estão a escola de qualidade, o planejamento familiar, a melhoria da segurança, o fim dos seus próprios privilégios, a lucidez nas decisões econômicas e financeiras, o prestar um serviço público realmente decente e dar um rumo desenvolvimentista eficiente? O poder público é cada vez mais medíocre.
Inclusive piorou. A bandidagem se institucionalizou pelo voto. Hoje está representada dentro dos maiores partidos políticos, haja vista os fatos da Lava Jato e “adjacências”, sendo protegida e blindada pela lei (o foro privilegiado) com o aval da “lesmice” do STF e de alguns membros dele, por motivação política. Alguma coisa aconteceu via passeatas (o impeachment), não necessariamente contra a bandidagem que estava no governo, mas se mexeram porque financeiramente a coisa doeu no bolso vendo tanto desemprego e o caos da “venezuelização” se aproximar em breve, se aquele governo incompetente ficasse. A coisa melhorou com a bandidagem que ficou, daí ninguém mais se mexeu.
Política nesse país é algo impressionantemente surreal.
Quantas crianças já morreram por balas perdidas nos últimos anos, disparadas pela bandidagem?
Quantos já morreram sendo assaltados brutalmente? Por motivos fúteis? Sou do tempo que matavam por roubos de tênis e nada melhorou desde então, só piorou.
Que repercussão real tem havido dessas barbaridades na sociedade, na mídia, e entre políticos? Cada vez menos. Nada. É tanta violência e tragédia que a estupidez virou coisa “normal”. Ninguém jamais chora, não se fazem passeatas, ninguém veste preto. Nem os vermelhinhos.
Até a Globo, ultra-comunista, também caiu no canto de sereia.
Porque os direitistas se escondem atrás de pseudônimos?
Quem garante que Maria Benaduce existe?
Pseudônimos, alcunhas, são muito usados.
Inclusive autores de esquerda
Sem comentários. Vermelhinhos “haters” pegando no pé.